CARLOS ARAÚJO (Blog Outro Olhar) – A violência voltou a assustar nos últimos dias – uma comprovação de que este fenômeno da sociedade moderna também é totalmente globalizado. De um lado, na Síria, uma guerra civil avança e ganha dimensões de catástrofe. Nos Estados Unidos, um atirador mata 12 pessoas num cinema. Em São Paulo, um publicitário e empresário morre com cinco tiros durante uma abordagem policial. Também em São Paulo, numa avenida movimentada da zona Sul, uma tentativa de assalto termina com a morte de um italiano que tinha chegado no dia anterior e veio de mudança para o Brasil. Quatro bandidos fazem arrastão em um prédio da rua Bela Cintra, na capital, e mantêm vinte pessoas trancadas num quarto. No Rio, uma policial morre numa unidade de polícia pacificadora. E, em Sorocaba, um policial militar é assassinado durante roubo a um posto de combustíveis na avenida Itavuvu. A comparação com um mundo em guerra não é nenhum exagero. Quem não vive na Síria, um país em guerra declarada, sofre as dores de uma guerra particular que, do ponto de vista das vítimas, é igual em toda parte.
O que temos a ver com isso? Tudo. Mesmo quem não tem nenhum vínculo com a Síria, não pode ignorar a carnificina que castiga a população civil daquele país. Sem contar que, entre os nossos vizinhos, amigos e parentes pode haver quem tenha ligações com a Síria e esteja penando as aflições daquilo que parece uma nova versão do apocalipse. Quem sai de um país sempre deixa pessoas queridas. A ameaça do uso de armas químicas por parte do governo do ditador Bashar Al Assad deixou o mundo em suspense.
As mortes do publicitário e empresário e do italiano, além de trágicas, escancaram um preconceito contra o qual parece não haver remédio. Mortes como estas acontecem em bairros pobres e esquecidos das zonas norte, leste e sul de São Paulo e as vítimas viram apenas estatísticas. Como se não tivessem rostos, famílias, emoções e vidas tão importantes quanto as de outras vítimas que ganham repercussão na imprensa – que tem culpa nessa distorção. Abordagem policial e tentativas de assaltos acontecem todo dia, toda hora, em todo lugar. E as duas situações são dramáticas. Eu vivi estas duas experiências e as recordações de cada momento crítico estão gravadas em imagens tão nítidas na memória que parece que aconteceram ontem.
Por quatro vezes eu tive armas de fogo apontadas contra mim. A primeira vez foi em 23 de maio de 1984, uma quinta-feira, às 22h15. A exatidão faz sentido: poderia ter sido o meu último dia. Um momento como este a gente não esquece jamais. Eu tinha 23 anos. Havia desembarcado do ônibus e caminhava para casa, quando fui rendido por quatro ladrões. Eles já estavam com uma vítima. Levaram relógio de pulso e o pouco dinheiro que eu tinha. Tentei conversar para acalmar os ânimos e, em resposta, recebi uma cabeçada e a advertência de que estava falando muito. Silenciei. Um dos ladrões encostou e fez correr o cano do revólver na minha cara. – uma maneira de me paralisar pelo pânico. Na saída (sempre o instante de maior risco), um dos bandidos me perguntou: “Você quer ir pra casa ou pro cemitério?” Quero ir pra casa”, respondi. “Então vai e não olha pra trás, senão eu lhe dou um tiro”, ele ameaçou. (Este risco me inspirou uma cena de ‘O Ódio Solto no Pasto’, meu romance publicado em 2022). Caminhei como quem pisava sobre nada. Depois, voltei-me e não ví mais ninguém. Corri e, quando cheguei em casa, minha mãe comparou: “Parece que veio da guerra.”
Outra vez, no dia 26 de janeiro de 1986, também em Jandira, três bandidos me dominaram, um deles com um revólver. Eram 9h15 de uma manhã de sábado. Um dos ladrões apontou o revólver para o meu peito enquanto os outros dois reviravam os meus bolsos e uma mochila. Levaram o pouco dinheiro e a mochila. Nas duas vezes, me conscientizei de que nessas horas dinheiro e objetos perdem o valor e o que interessa é preservar a vida, o nosso verdadeiro e maior patrimônio.
A primeira abordagem policial aconteceu em 23 de julho de 1997, em Sorocaba, no bairro do Trujillo. Eu fazia corrida noturna. Eram 23h30. No cruzamento da rua Gonçalves Magalhães com a avenida Armando Sales de Oliveira, um farol alto se projetou na minha cara e em seguida veio a ordem de parar. Era uma viatura policial. Um dos policiais ficou na viatura, apontando uma arma para mim, e outro veio me revistar. Eu me identifiquei como jornalista e disse que fazia corridas no bairro à noite. Eles se justificaram dizendo que estavam à procura de um homem que atacava casas naqueles dias. Mudei o horário das corridas para as manhãs.
Há 10 anos, em São Paulo, eu e um motorista do jornal para o qual eu trabalhava na época, o “Estadão”, cruzamos a rua Euclides Pacheco com Apucarana, no Tatuapé, quando duas motos da polícia passaram por nós em alta velocidade e no sentido contrário. Eram 13h30. De repente, o motorista falou: “É com a gente.” Olhei e vi uma cena surpreendente: estávamos cercados por não sei quantos policiais (mais de dez), todos apontando armas para nós. Eu me rendi com as mãos abertas e gritei bem alto que estava saindo do carro. Feito isto, me identifiquei como jornalista e tive que contar que estava produzindo uma reportagem sobre furtos e roubos de veículos na Euclides Pacheco, uma das vias de maior número de registros desses crimes. Eu queria achar um local para ficar com um fotógrafo e flagrar um furto. Perguntas que fiz a comerciantes da rua sobre isso os levaram a suspeitarem de mim e do motorista. E nos denunciaram como suspeitos. Na nossa apuração nós não podíamos identificar o carro. Ainda tenho arrepios só de recordar o grau de risco a que nos expusemos para realizar uma reportagem. O policiamento naquela região aumentou e lá se foi por água abaixo o meu projeto de flagrar um furto ou roubo de veículo na Euclides Pacheco. O incrível é que hoje eu posso contar essa história.
Era a época em que a imprensa vivia os reflexos da morte do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, por traficantes no Rio. A comoção era intensa e levou os profissionais da mídia a questionarem os limites entre a investigação jornalística e a investigação policial. Nada mudou.
*Crônica publicada originalmente em 29/07/2012
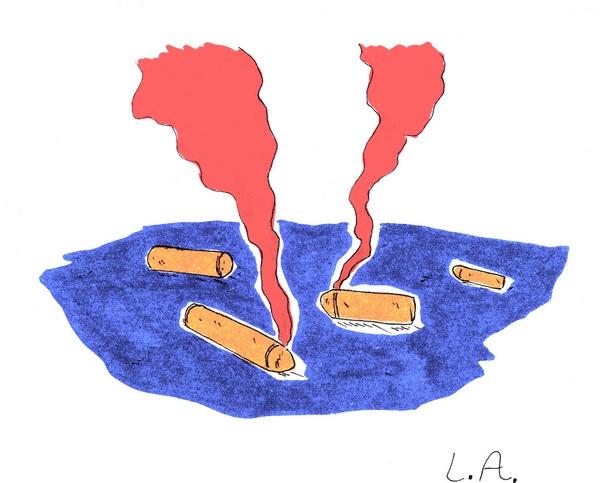
Deixe uma resposta