CARLOS ARAÚJO (Blog Outro Olhar) – As mortes, as perseguições e os riscos da reportagem pelo mundo afora abrem um novo debate sobre os limites da cobertura jornalística. Dizer o quê? Acontecimentos impactantes tiram o sentido de qualquer reflexão. Em vez de achar alguma coisa, prefiro recordar coberturas jornalísticas que me deixaram com muito medo e das quais extraí a valiosa lição de que a prioridade zero do repórter é sobreviver com a maior dignidade possível.
1. Estou na muvuca do bloqueio de uma das marginais da Castello Branco, altura de Osasco, e voam pedras pra todo lado. De um lado os moradores de uma favela, de outro, a Tropa de Choque da PM. Se uma pedra acerta a minha cabeça, estou frito. Busco proteção me agachando atrás de um carro.
2. Na rua 25 de Março, em São Paulo, num dezembro do início dos anos 2000, estou em meio a outro tumulto. Desta vez, entre camelôs e guardas civis municipais. Camelôs pressionam um comerciante para fechar a porta de uma loja. Eu me posiciono ao lado da porta. Depois que ela é abaixada, de repente, um tiro é dado de dentro para fora e um rapaz que está ao meu lado se queixa de que foi atingido. Correria pra todo lado. Salve-se quem puder. Pedras vooam por toda parte. Eu corro protegendo a cabeça com a agenda na mão direita e a região de baixo com a mão esquerda. Colegas jornalistas que viram a cena e também se protegiam, ficaram depois tirando sarro de mim. E eu só queria me proteger. Mais à frente, dou de cara com um comerciante armado de revólver e ameaçando um camelô. Chegam os guardas e o homem esconde o revólver.
3. Na zona sul de São Paulo, vou ao local onde houve uma chacina na noite anterior. No retorno, deparamos, eu e o motorista, com o corpo de um homem estendido no chão, em meio ao sangue escorrendo ao sol. Ele acaba de ser assassinado. Por pouco não presenciamos o crime. Escapamos do risco de sermos testemunhas indesejáveis e aguentar as consequências do que isso poderia representar para o assassino. O motorista está tão assustado que, na hora de manobrar o carro para dar a partida, derruba e tomba uma moto estacionada atrás do carro. O dono da moto (um cara que ninguém gostaria de encontrar numa rua deserta) pede R$ 50 pelo suposto prejuízo. E olha que a moto não teve nada quebrado. Com muita conversa, o motorista o convence de que nada aconteceu e fica o dito pelo não dito.
4. Na esquina das ruas Apucarana e Euclides Pacheco, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, o motorista que está comigo para o carro. “É com a gente”, ele diz, aflito. Estamos cercados por uns quinze policiais militares em motos e viaturas. Eles apontam armas para nós. Saímos do carro e nos identificamos como jornalistas à procura de um local para nos posicionarmos e flagrarmos furtos de veículos numa das regiões onde mais acontece esse tipo de crime em São Paulo. No contato com alguns comerciantes, eles desconfiaram de nós e avisaram a polícia. A suspeita foi acirrada com o simples fato de o carro não estar identificado, opção que utilizamos para não denunciar a nossa presença – o que prejudicaria o objetivo da reportagem. Claro que depois disso o policiamento no Tatuapé foi reforçado e eu perdi a chance da reportagem.
5. Num lugar ermo na cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, são 10 horas da noite de um domingo. Eu e o motorista tentamos localizar uma penitenciária onde explodiu uma rebelião de presos. Na escuridão, ouvimos um tiro. Pelo ruído, o disparo atingiu um outdoor. Eu e o motorista respiramos de alívio. O problema do tiro é que quando você ouve o disparo, se você estiver na linha como alvo, já era, não há o que fazer. Achamos a penitenciária. A rebelião terminou com 10 mortos, dos quais três degolados.
6. Eu e outro motorista procuramos uma favela na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Perdidos, pedimos informação a dois caras. Eles se aproximam. Um deles tem um revólver na mão. O clima é tenso, desencadeado por confrontos entre a polícia e uma facção criminosa em regiões do interior e da capital. É a época em que vários criminosos foram mortos num ônibus no pedágio da Castelinho, em Sorocaba. Perguntamos pela localização da favela e os dois caras respondem que estamos nela. O problema é que o que está com o revólver desconfia do motorista: acha que ele é policial disfarçado. O motorista mostra os documentos. No banco do passageiro, eu não sei o que dizer e deixo o motorista (que sabe falar a linguagem da favela) se entender com o cara que tem a arma na mão. Contenho o impulso de sair e conversar com o cara e falar para ele que somos mesmo jornalistas. O cara olha para dentro do carro, identificado como imprensa, e tenta encontrar arma. O motorista acaba por convencê-lo de que está enganado. Por fim, o cara nos ensina a saída da favela, e lá vamos nós, temendo um tiro na traseira do carro. O motorista me dá uma lição dizendo que eu teria feito uma tremenda besteira se tivesse saído do carro para conversar com os caras. O susto foi grande.
7. Na cidade de Bituruna, região sul do Paraná, eu, o fotógrafo Sebastião Moreira e o motorista apuramos denúncias de pagamento de “pedágios” por parte de agricultores que recebem verbas federais e são pressionados a entrar no esquema. Na pequena cidade, somos recebidos por um comerciante que parece ser o manda-chuva do lugar. São 2 horas da tarde e ele promete falar com a gente somente no dia seguinte. Ele é dono de um supermercado, do hotel onde pretendemos passar a noite e de outras propriedades. Rapidamente coletamos dados sobre o poder dele na cidade e o desconfiômetro manda que, naquela situação, para nós é perigoso passar a noite ali. Agora são 5 horas da tarde. Rapidamente, replanejamos tudo e, mesmo cansados, saímos de Bituruna e pegamos a estrada rumo a Guarapuava: mais de 100 quilômetros de viagem. Naquela terra de ninguém, demos crédito à desconfiança. Prudentes, não registramos o episódio na reportagem. Debitamos a história na conta dos bastidores da cobertura e não queremos fechar as portas para um eventual retorno a Bituruna.
8. No início da década de 1990, em Porto Feliz, no rio Sorocaba, estamos eu, o fotógrafo Aldo V. Silva e um motorista. Eu e o fotógrafo vamos a um local onde há uma impressionante mortandade de peixes. Ali, nos deparamos com um grupo de 10 homens aparentemente fazendo um churrasco. Eles usam facões. Um deles se aproxima e exige que eu lhe mostre o meu bloco de anotações e o que havia escrito. Outro me agride com um chute e um murro no ombro e ele também quer tomar a máquina do fotógrafo. Aos poucos, depois de fazer as fotos dos peixes e com muita conversa, eu e o fotógrafo nos afastamos. Ao avistarmos o motorista, fazemos sinal de pressa. Estamos convictos de que escapamos de um problemão.
9. Numa redação de São Paulo, chega a informação de que o clima é quente em uma favela da zona leste. Como sabem que gosto desse tipo de adrenalina, imediatamente sou convocado para ir à favela com um fotógrafo. Dois amigos jornalistas, Fábio Diamante e Marcelo Godoy, intervém com a chefia de reportagem e argumentam que o perigo é grande e eu não devo ir à favela: é noite, não há sintonia com operação policial para garantir alguma proteção e não se sabe a dimensão da gravidade no local. Posso ter perdido uma reportagem, mas ganhei sobrevida.
Há 37 anos, quando comecei a trabalhar em jornal, eu queria ser repórter de guerra. Nunca fui a uma batalha convencional. E nem por isso fiquei frustrado. No cotidiano do trabalho e da existência, descobri que os grandes combates podem ser travados na aparente tranquilidade de uma rua deserta e até mesmo numa história de amor.
No limite do medo
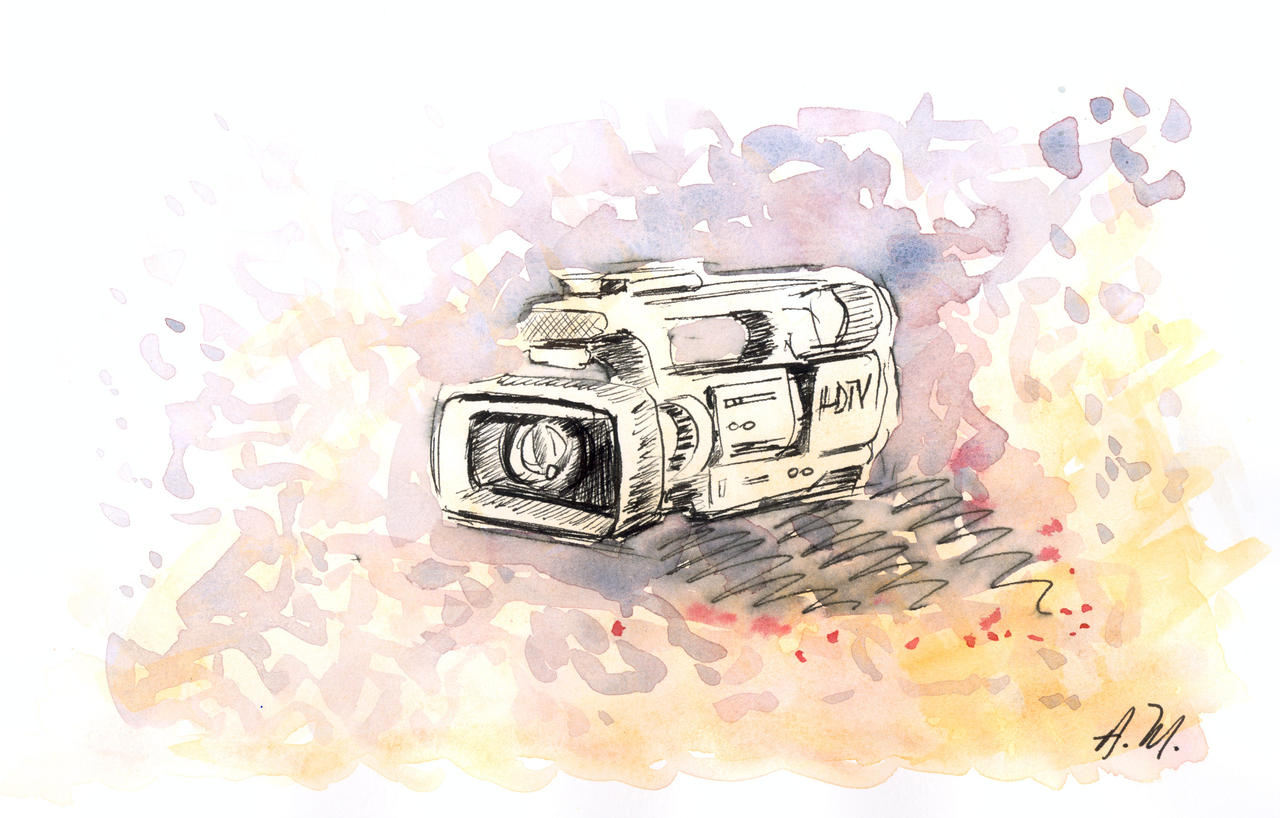
Deixe uma resposta